24.8.09
XXVII - (Re)leituras: a Encíclica Caritas in Veritate, de Benedito XVI, por André Bandeira
Esta Encíclica pretende dar a boa doutrina, para quem olha e lê o Vaticano (Umberto Bossi, Ministro nortista de Itália, parece que não, uma vez que entrou em colisão com o Vaticano quando se afogaram cerca de 70 imigrantes clandestinos ao largo da ilha de Lampedusa depois de andarem vários dias à deriva, sem que ninguém dos que passavam, os viesse socorrer).Há outros para quem o que o Vaticano diz, pouco interessa (no Norte de Itália, canta-se como hino o «Va Pensiero» de Verdi...pois eu digo «Non Va», que tropeça). Mas a «boa doutrina» desta Encíclica usa uma linguagem que, no tempo de Leão XIII, com a «Rerum Novarum», surtia efeito.Vejamos o estilo: a Rerum Novarum começa por alertar contra as ideias novas, no fim do Séc. XIX, mas acaba a ajudá-las a passar.É portanto, um sarcasmo bondoso. Já a Encíclica de Benedito XVI usa fórmulas metafóricas em que a linguagem é a do socialismo mas que podem ser interpretadas favoravelmente quer por comunistas, quer por fascistas, que se considerem honestamente cristãos.A linguagem , portanto, serve a muitos mas não satisfaz todos. É claro que Bento XVI não conhece as loucuras do socialismo que fazem uma mandatária para a juventude de um Partido Socialista declarar publicamente que detesta perder e prefere fazer batota a perder, ou que só come cerejas e uvas quando a criada (direi «técnica de superfície») lhes tira previamente os caroços e graínhas. Uma declaração assim, de uma jovem, pode muito bem significar a derrota de umas eleições, do mesmo modo como algumas afirmações da «boa doutrina» de Bento XVI podem, por incrível que pareça, salvar uma Encíclica assim tão doutoral, cheia de metáforas que nos deixam a dormir. Pego em duas: subrepticiamente, Bento XVI, critica o hinduísmo e a New Age pela sua estrutura mágica (p. 55). Estou de acordo: a magia existe e é um dos piores inimigos dos cristãos, o que significa que quando ela está associada a uma religião, não se deve ter medo de criticar esta última. Segundo: em Ciência, a «Grande Final» desta época parece desenrolar-se nas ciências do cérebro e, aí, só há duas alternativas (p. 74): ou tecnologia, ou valores. Estou de acordo também. Por mais pujante que seja a Ciência, mesmo a Ciência da Ciência da Ciência, espera aí que já me perdi e, como dizia o Tótó «não consigo dormir. Quando apago a luz, vejo os olhos da Consciência». Bom, apaguem a luz. São horas de dormir, com uma boa piada do Tótó.
17.8.09
Leiam isto!!
Uma grande chamada de atenção para o texto de João Gomes em
O amor nos tempos da blogosfera
O amor nos tempos da blogosfera
ROBERT MUSIL - UM HOMEM SEM QUALIDADES Parte 1
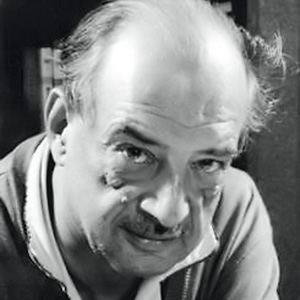
Primeira publicação in Portugueses, nº 8, 1989
ROBERT MUSIL - UM HOMEM SEM QUALIDADES
"Tenho para mim, que é mais importante escrever um bom livro do que governar um império. Aliás, é mais difícil."
Musil não será o mais conhecido romancista alemão do nosso século mas talvez seja o mais importante pelo que nos revela acerca dos destinos do indivíduo e da sociedade.
O sucesso literário de Robert Musil começou cedo, em 1906, com o seu romance "Os Tor mentos do Jovem Toerless" e sucessi vos artigos e obras de que se desta cam "Os Exaltados", "Três Mulheres", e "Vincenzo". Mas, para surpresa de todos, Musil decidiu abandonar o caminho convencional da literatura e empenhar-se num romance profético que compôs desde 1930 até à sua morte: "O Homem sem Qualidades".
Robert Musil nasceu em 6/11/1880 em Klagenfurt, de pais de origem checa e austríaca. Passou pela Academia Militar, cursou Engenharia Mecânica e Filosofia, sendo-lhe oferecida a cáte dra de Psicologia em Munique e Ber lim. Fundou ainda uma fábrica de tintas onde aplicou patentes suas. Entretanto, escrevia.
Engenheiro, doutor em Filosofia, capitão do exército austro-húngaro na 1.ª Grande Guerra, condecorado com o grau de Cavaleiro por feitos em combate, Conselheiro Federal em Viena entre 1920 e 1922, o nobre Robert von Musil a tudo renunciou, como se fosse louco, para ser apenas o Escritor, paupérrimo no final da sua vida, apenas ajudado por sua mulher Martha, e morrendo solitário em Ge nebra em 13 de Abril de 1942. Oito pessoas acompanharam o funeral daquele que fora o Mozart da Lite ratura.
Quem era Musil? Um asceta da arte? Um masoquista moral? Um aven tureiro do espírito? Um equivocado na profissão? O que o terá conduzido a tanto desprezar as comodidades da vida, o prestígio social, e o sucesso artístico até atingir a solidão da poe sia? Porque acreditou que fosse esse o seu destino?
Seria por desprezar a vida e o corpo? De modo algum, pois que até à sua morte por apoplexia, Musil sem pre praticou uma hora de ginástica por dia; sentia-se um descobridor. Seria por espírito de utopia e de revolta contra a sociedade? Pelo contrário, porque sempre teve uma profunda compreensão da história da sua pátria e do mundo. O certo é que a par do descobridor e do pensador havia um irmão melancólico de Dostoievsky que só agia movido pelo sofrimento e espi caçado pelo dever.
O destino pessoal face ao des tino do mundo - eis a questão de Musil. O século XX trouxera à super fície das pátrias germânicas, o senti mento trágico que constituiu, do princípio ao fim, o cerne da existência do escritor. Só a grande sombra histórica da Guerra e da Violência permite que se vislumbre a fraca luz do indivíduo. Em 1933 deixa Berlim; em 1938 abandona Viena; e nos últimos 3 anos leva para terras suíças o último bem que possuía e que a guerra estava a des truir - a sua mensagem. Qual seria a realidade mais forte: a obra ou a guerra? Quem estava louco: ele ou Hitler? Qual o sonho que iria termi nar: o seu ou o do século? Restava a Musil escrever cada vez melhor e com mais vigor, pois não era com um par de frases que o espírito germânico se poderia reencontrar a si próprio, de pois de atravessar tão profundos cata clismos sociais. Por isso escreveu "O HOMEM SEM QUALIDADES", o seu legado espiritual à posteridade.
13.8.09
Discurso do Trono da Infanta D. Isabel Maria - 1826

"Vós sabeis que o solo, que hoje chamamos Portugal, não conheceu desde séculos remotos outro Governo Político, que não fosse o Monárquico-Representativo. Prelados e Grandes Senhores formavam unicamente esta Representação: o Povo não tinha voz nem acção num regime quase feudal. Os Reis Portugueses, pouco depois do princípio da Monarquia, concederam ao terceiro Estado os direitos e a dignidade que os séculos bárbaros lhe haviam negado. Floresceu então Portugal à sombra de um Governo completamente Representativo: porém, não havendo Leis que fixassem de um modo invariável as Instituições adoptadas pela prática e tradição dos Maiores, vieram estas a cair em esquecimento; emudeceram as Cortes da Nação e estava reservado para os nossos dias renová-las por meio de estabelecimentos sábios e permanentes.
Tal foi o projecto que, na Sua Real Mente, concebeu Meu Augusto Pai [D. João VI], cuja memória será sempre cara aos Portugueses; e tal foi o que com glória imortal executou Meu Augusto Irmão [D. Pedro IV], felicitando esta Nação com a nova Carta Constitucional..."
(Discurso do Trono da Infanta Regente D. Isabel Maria, 30 de Outubro de 1826)
12.8.09
Ainda o José Agostinho de Macedo!
José Agostinho de Macedo, Por Oliveira Martins, Perfis (edição póstuma, 1930).
Faz hoje, 2 de Outubro, 55 anos que morreu o desbragado foliculário, o poetastro infatigável, o panfletário sabido que fundou entre nós o jornalismo político, com o Desengano, com a Tripa Virada e com a Besta Esfolada, de que chegavam a tirar-se quatro mil exemplares!
Nunca houve homem mais plebeiamente popular; nenhum dos nossos caceteiros da pena lhe deitou a barra adiante na impudência, no descaramento, na desfaçatez. A sua veia (hoje diz-se verve), a sua facúndia, eram inesgotáveis. Sabia a linguagem das colarejas e rameiras, porque as frequentava; e o calão dos cárceres e das enxovias porque passou por lá. O seu estilo era torrente, mas jorro que sai de um cano – um enxurro violento de imundícies. Criou um género, que se nacionalizou português.
Era alentejano, de Beja, onde nascera em 1761. Fez-se frade na Graça em 1778. Foi expulso por devasso em 1792. Os tempos tormentosos da passagem do século XVIII para o nosso, com o esboroar de todas as coisas, desequilibraram o pensamento e o carácter desse homem poderoso, cuja força se perdeu num dilúvio de vulgaridades, numa indigesta montanha de folhetos, de jornais, de sermões, de cartas, de poemas e de versalhada, medíocre, mas espantosa, pela quantidade – um Himalaia, de calhaus rolados!
Um grande orgulho baseado na consciência da sua força real, levava-o a odiar Camões, esse desespero de Castilho que se parece tanto com José Agostinho como uma limonada com um almude de vinho torrejano, espesso, negro, e carrascão. As cócegas da rivalidade levavam-no a beliscar em Bocage, o grande homem perdido, que lhe respondia:
...Epístolas, Sonetos
Odes, Canções, Metamorfoses...
Na frente põe teu nome, e estou vingado.
Elmiro, com a batina desabotoada, as ventas largas cheias de rapé, abordoado a uma bengala, membrudo, violento, ossudo, desbragado, dava murros no balcão gorduroso dos Bertrands, ao Chiado, enchendo Lisboa com o estrépito das suas polémicas e com a fama da sua vida airada.
Andava amancebado com uma freira de Odivelas; passava as noites em arruaças e bebedeiras. Acusavam-no de ter furtado livros da livraria dos Paulistas, o que provavelmente era calúnia.
Fabricava poemas: O Oriente, o Gama, A Meditação, Newton, A Natureza, para não falar nos Burros, traduzindo numa linguagem friamente convencional, sem génio, sem colorido, as sensaborias banais do racionalismo naturalista do tempo. Fazia comédias, pregava sermões. Ensaiava o drama burguês moderno, inventado por Diderot, com a Clotilde e o Vício sem Máscara, e alinhavava dissertações filosóficas. A sua veia porém, a sua vocação, era a polémica. Inventou o jornal, nacionalizou o panfleto. Foi o mestre de S. Boaventura, autor do Mastigóforo, e de Alvito Buela, o autor do Cacete.
É por ser o patriarca do jornalismo lusitano que lhe comemoramos hoje o aniversário.
Arrastado pelo movimento de entusiasmo patriótico que em 1820 expulsou os ingleses, José Agostinho apareceu liberal e democrata. Portalegre elegeu-o deputado em 1822; mas depois de 1823 e da Vila francada voltou-se como tantos outros para o absolutismo, e pôs-se à frente dos energúmenos caceteiros, que mais tarde aclamaram D. Miguel (1828).
A Tripa virada é dessa época, interessante pelo seu desvario, curiosa pelos seus entusiasmos. A Tripa virada é ele próprio, que se virou do direito ao avesso, confessando o acto com uma franqueza, com uma desfaçatez, que terão sempre aceitação entre os povos meridionais, cínicos por temperamento, nos momentos de agudas crises.
Sacudido o pó das sandálias liberais, encarneirado no bando de energúmenos avinhados que por toda a parte aclamavam D. Miguel, José Agostinho fez-se o apóstolo dessa ditadura plebeia, que veio a acabar em 1834. E de então a Besta esfolada.
Trabalhar o cacete, desandar o bordão, descarregar o arrocho, são axiomas eternos e invariáveis regras de justiça... Toma daqui, besta! Chó, besta! Isso não faz nada; é perder o tempo e com bestas não há contemplação: perde-se a obra, perde-se tudo, se o pau não trabalha, e deveras.
A violência plebeia contra os inimigos, a abjecção completa diante do tirano, o furor e a humildade, a lisonja e o vitupério; de um lado, a boca espumante e os punhos cerrados; do outro, a face por terra beijando o pó; esse estado de espírito incongruente do vilão com a vara na mão, de joelhos perante quem o armou: eis ali o que revela a oposição da Besta esfolada à Apoteose de Hércules, que se representou em S. Carlos na noite de 26 de Outubro de 1830. Hércules era D. Miguel.
Um ano depois, José Agostinho morria, sem ver o fim inevitável dessa tragi-comédia que durava desde 1828.
Morria, e, apesar da sua banalidade, da sua monstruosidade cínica, apesar de tudo, foi Alguém. O povo amou-o, sentiu pelos seus nervos, falou pela sua boca. Porquê?
Em primeiro lugar, porque o povo português, enervado por três séculos de decomposição, estava retratado na figura do padre. A força que ainda tinha esvaía-se toda em pedir arrocho, e em arrastar os cacetes apostólicos pelas portarias dos conventos e pelas vielas imundas das marafonas, cambaleando ébrio de cólera, e também de vinho frequentemente.
Mas, em segundo lugar, a razão é outra.
Dois homens podem entender-se para praticar uma traficância; muitos, é difícil – todos, nunca. Um povo pode ser cínico, mas não pode ser patife. Há sentimentos exclusivamente individuais, e a patifaria é um desses. Se um povo pratica acções criminosas, é porque perdeu a consciência do que seja crime. O povo é sempre sincero. A sinceridade, eis aí o segredo de José Agostinho; a franqueza foi a sua força; o desinteresse, a origem do seu prestígio. O cinismo desbragado, isto é, a sinceridade e a franqueza levadas até à impudência, com aquele desaforo dos que, não tendo vergonha têm o mundo por si, foram a nota dominante e a faculdade íntima do polemista que se achou desse modo num perfeito acordo com o povo. Plebeu, sem perfídias de civilizado, rústico, sem ambages de político, foi um arrieiro das letras, é verdade, mas não foi um chatim.
Cobiçava a fama, cobiçava a popularidade mais vulgar; mas não cobiçava o dinheiro, ídolo exclusivo dos dias de hoje. Viveu sempre quase mendigo. As letras e o púlpito davam-lhe apenas para não morrer de fome. Era, a valer, o tipo do demagogo antigo ao lado de D. Miguel que reproduzia a imagem dos velhos tiranos lacedemónios do Peloponeso ou da Sicília.
Além disso, levava sobre os dias de hoje e sobre os nossos foliculários outra vantagem: as suas verrinas não eram postiças, convencionais. Havia ódios, o que não deixa de ser um bem quando há antagonismos fundamentados. A imprensa não era ainda uma comédia representada para ilusão da galeria. Quando se jogavam injúrias, arriscavam-se facadas e tiros. Era sério.
Finalmente, havia uma outra vantagem, se comparamos a Besta esfolada às Tripas viradas dos dias de hoje: é que as injúrias inflamantes, os insultos obscenos, as verrinas descompostas, dirigiam-se a um partido odiado que, de resto, pagava na mesma moeda, em vez de se dirigirem como hoje, que tudo são questões de pessoas, a fulano ou sicrano, portadores, quando muito, de uma individualidade incómoda ou de um interesse cúpido.
Estudando comparadamente o jornalismo português com meio século de intervalo, vemos que a tradição de José Agostinho se mantém nuns pontos e se oblitera em outros. Oxalá seja para melhor!
Faz hoje, 2 de Outubro, 55 anos que morreu o desbragado foliculário, o poetastro infatigável, o panfletário sabido que fundou entre nós o jornalismo político, com o Desengano, com a Tripa Virada e com a Besta Esfolada, de que chegavam a tirar-se quatro mil exemplares!
Nunca houve homem mais plebeiamente popular; nenhum dos nossos caceteiros da pena lhe deitou a barra adiante na impudência, no descaramento, na desfaçatez. A sua veia (hoje diz-se verve), a sua facúndia, eram inesgotáveis. Sabia a linguagem das colarejas e rameiras, porque as frequentava; e o calão dos cárceres e das enxovias porque passou por lá. O seu estilo era torrente, mas jorro que sai de um cano – um enxurro violento de imundícies. Criou um género, que se nacionalizou português.
Era alentejano, de Beja, onde nascera em 1761. Fez-se frade na Graça em 1778. Foi expulso por devasso em 1792. Os tempos tormentosos da passagem do século XVIII para o nosso, com o esboroar de todas as coisas, desequilibraram o pensamento e o carácter desse homem poderoso, cuja força se perdeu num dilúvio de vulgaridades, numa indigesta montanha de folhetos, de jornais, de sermões, de cartas, de poemas e de versalhada, medíocre, mas espantosa, pela quantidade – um Himalaia, de calhaus rolados!
Um grande orgulho baseado na consciência da sua força real, levava-o a odiar Camões, esse desespero de Castilho que se parece tanto com José Agostinho como uma limonada com um almude de vinho torrejano, espesso, negro, e carrascão. As cócegas da rivalidade levavam-no a beliscar em Bocage, o grande homem perdido, que lhe respondia:
...Epístolas, Sonetos
Odes, Canções, Metamorfoses...
Na frente põe teu nome, e estou vingado.
Elmiro, com a batina desabotoada, as ventas largas cheias de rapé, abordoado a uma bengala, membrudo, violento, ossudo, desbragado, dava murros no balcão gorduroso dos Bertrands, ao Chiado, enchendo Lisboa com o estrépito das suas polémicas e com a fama da sua vida airada.
Andava amancebado com uma freira de Odivelas; passava as noites em arruaças e bebedeiras. Acusavam-no de ter furtado livros da livraria dos Paulistas, o que provavelmente era calúnia.
Fabricava poemas: O Oriente, o Gama, A Meditação, Newton, A Natureza, para não falar nos Burros, traduzindo numa linguagem friamente convencional, sem génio, sem colorido, as sensaborias banais do racionalismo naturalista do tempo. Fazia comédias, pregava sermões. Ensaiava o drama burguês moderno, inventado por Diderot, com a Clotilde e o Vício sem Máscara, e alinhavava dissertações filosóficas. A sua veia porém, a sua vocação, era a polémica. Inventou o jornal, nacionalizou o panfleto. Foi o mestre de S. Boaventura, autor do Mastigóforo, e de Alvito Buela, o autor do Cacete.
É por ser o patriarca do jornalismo lusitano que lhe comemoramos hoje o aniversário.
Arrastado pelo movimento de entusiasmo patriótico que em 1820 expulsou os ingleses, José Agostinho apareceu liberal e democrata. Portalegre elegeu-o deputado em 1822; mas depois de 1823 e da Vila francada voltou-se como tantos outros para o absolutismo, e pôs-se à frente dos energúmenos caceteiros, que mais tarde aclamaram D. Miguel (1828).
A Tripa virada é dessa época, interessante pelo seu desvario, curiosa pelos seus entusiasmos. A Tripa virada é ele próprio, que se virou do direito ao avesso, confessando o acto com uma franqueza, com uma desfaçatez, que terão sempre aceitação entre os povos meridionais, cínicos por temperamento, nos momentos de agudas crises.
Sacudido o pó das sandálias liberais, encarneirado no bando de energúmenos avinhados que por toda a parte aclamavam D. Miguel, José Agostinho fez-se o apóstolo dessa ditadura plebeia, que veio a acabar em 1834. E de então a Besta esfolada.
Trabalhar o cacete, desandar o bordão, descarregar o arrocho, são axiomas eternos e invariáveis regras de justiça... Toma daqui, besta! Chó, besta! Isso não faz nada; é perder o tempo e com bestas não há contemplação: perde-se a obra, perde-se tudo, se o pau não trabalha, e deveras.
A violência plebeia contra os inimigos, a abjecção completa diante do tirano, o furor e a humildade, a lisonja e o vitupério; de um lado, a boca espumante e os punhos cerrados; do outro, a face por terra beijando o pó; esse estado de espírito incongruente do vilão com a vara na mão, de joelhos perante quem o armou: eis ali o que revela a oposição da Besta esfolada à Apoteose de Hércules, que se representou em S. Carlos na noite de 26 de Outubro de 1830. Hércules era D. Miguel.
Um ano depois, José Agostinho morria, sem ver o fim inevitável dessa tragi-comédia que durava desde 1828.
Morria, e, apesar da sua banalidade, da sua monstruosidade cínica, apesar de tudo, foi Alguém. O povo amou-o, sentiu pelos seus nervos, falou pela sua boca. Porquê?
Em primeiro lugar, porque o povo português, enervado por três séculos de decomposição, estava retratado na figura do padre. A força que ainda tinha esvaía-se toda em pedir arrocho, e em arrastar os cacetes apostólicos pelas portarias dos conventos e pelas vielas imundas das marafonas, cambaleando ébrio de cólera, e também de vinho frequentemente.
Mas, em segundo lugar, a razão é outra.
Dois homens podem entender-se para praticar uma traficância; muitos, é difícil – todos, nunca. Um povo pode ser cínico, mas não pode ser patife. Há sentimentos exclusivamente individuais, e a patifaria é um desses. Se um povo pratica acções criminosas, é porque perdeu a consciência do que seja crime. O povo é sempre sincero. A sinceridade, eis aí o segredo de José Agostinho; a franqueza foi a sua força; o desinteresse, a origem do seu prestígio. O cinismo desbragado, isto é, a sinceridade e a franqueza levadas até à impudência, com aquele desaforo dos que, não tendo vergonha têm o mundo por si, foram a nota dominante e a faculdade íntima do polemista que se achou desse modo num perfeito acordo com o povo. Plebeu, sem perfídias de civilizado, rústico, sem ambages de político, foi um arrieiro das letras, é verdade, mas não foi um chatim.
Cobiçava a fama, cobiçava a popularidade mais vulgar; mas não cobiçava o dinheiro, ídolo exclusivo dos dias de hoje. Viveu sempre quase mendigo. As letras e o púlpito davam-lhe apenas para não morrer de fome. Era, a valer, o tipo do demagogo antigo ao lado de D. Miguel que reproduzia a imagem dos velhos tiranos lacedemónios do Peloponeso ou da Sicília.
Além disso, levava sobre os dias de hoje e sobre os nossos foliculários outra vantagem: as suas verrinas não eram postiças, convencionais. Havia ódios, o que não deixa de ser um bem quando há antagonismos fundamentados. A imprensa não era ainda uma comédia representada para ilusão da galeria. Quando se jogavam injúrias, arriscavam-se facadas e tiros. Era sério.
Finalmente, havia uma outra vantagem, se comparamos a Besta esfolada às Tripas viradas dos dias de hoje: é que as injúrias inflamantes, os insultos obscenos, as verrinas descompostas, dirigiam-se a um partido odiado que, de resto, pagava na mesma moeda, em vez de se dirigirem como hoje, que tudo são questões de pessoas, a fulano ou sicrano, portadores, quando muito, de uma individualidade incómoda ou de um interesse cúpido.
Estudando comparadamente o jornalismo português com meio século de intervalo, vemos que a tradição de José Agostinho se mantém nuns pontos e se oblitera em outros. Oxalá seja para melhor!
10.8.09
XXVI - (Re)leituras - Raúl Solnado, por André Bandeira
Raúl Solnado era uma figura da transição. No seu rosto, no seu estilo de humor, na sua carreira e nas suas realizações, Solnado era uma figura daquilo que fica em Lisboa, apesar das épocas mudarem. Um moço da Madragoa, como Solnado, caminhava pelas ruas como se o fizesse por uma floresta. Uma floresta com muitas árvores, umas de sequeiro, outras de regadio. Penso que, no meio das ventanias que assolaram a floresta de Lisboa, a qual também tem os seus micro-climas, Solnado resolveu ficar sempre um bocado garoto porque isso lhe permitiu continuar a percorrê-la livremente. Por isso, o seu poema de eleição, era o «Liberdade» de Fernando Pessoa que acaba a dizer, para quem o quiser ouvir, em «O mais importante de tudo isto/é Jesus Cristo» (que nada sabia de Finanças/ nem consta que tivesse biblioteca). Solnado era certamente um homem bom, mesmo antes de morrer, quando a TV lhe negava uma série de projectos, talvez porque precisasse de um Humor feito com meninos perversos, em vez dum humor incondicional. O seu monumento é a Casa do Artista, que ajudou a fundar e que amparava os que nos fizeram rir e sonhar e deixámos na miséria, porque se espalhou em Portugal que a História do Mundo é a da Luta de Classes. E Solnado, no seu amor, misto de histeria, de loucura, de fragilidade que não era feminina nem postiça, nos seus repentes miméticos de pepineira, em que fazia uso da sua própria gaguez, lá fez História lutando como um garôto do cêrco de Lisboa, contra as Classes. Porque o riso deita abaixo as muralhas de Jericó, em que encerrámos, como leprosos, artistas como António Calvário, Artur Garcia, João Maria Tudela, Florbela Queirós, em que só a morte adiada de José Calvário ou as mortes rudes de Badaró, Raúl Indipwo ou Cândida Brancaflor nos chamam a atenção.
O seu monólogo contra a Guerra, certamente não inteiramente original, mas que ficou dele, pertence ao património universal da paz, merecia ficar no espólio de Hiroshima e Nagasaqui. Antes de Solnado, ele foi dito pelos camponeses da Idade Média, pelos espezinhados da Civilização industrial, pelos soldados nas trincheiras de Verdun, ou por aqueles que, dois dois lados da Europa, cantavam Lili Marlene. E se Solnado estivesse ao meu lado, havia de me perguntar se a Lili Marlene dava descontos a gagos. E se eu lhe perguntasse porquê, havia de me responder que um gago não dá uma sem repetir.
O seu monólogo contra a Guerra, certamente não inteiramente original, mas que ficou dele, pertence ao património universal da paz, merecia ficar no espólio de Hiroshima e Nagasaqui. Antes de Solnado, ele foi dito pelos camponeses da Idade Média, pelos espezinhados da Civilização industrial, pelos soldados nas trincheiras de Verdun, ou por aqueles que, dois dois lados da Europa, cantavam Lili Marlene. E se Solnado estivesse ao meu lado, havia de me perguntar se a Lili Marlene dava descontos a gagos. E se eu lhe perguntasse porquê, havia de me responder que um gago não dá uma sem repetir.
4.8.09
XXV - (Re)leituras - Kim, de Rudyard Kipling, por André Bandeira
Kim, é um romance do Séc. XIX. Mas os problemas de que trata estão todos presentes, porque não é a luz eléctrica, um avião ou a internet que os resolvem, antes os agravam. O excesso de população em centros urbanos parece algo que se auto-alimenta, porque concentra indivíduos e negligencia as pessoas. Se, na Idade Média, as cidades eram sinal de liberdade, hoje não o são. Kim é um romance em parte auto-biográfico escrito pelo espião britânico Rudyard Kipling, num momento em que o Império britânico tocava nos limites do Império russo. O cenário é o actual Paquistão e o Afeganistão, onde, na altura, todas as religiões conviviam de um modo mais ou menos tolerante. Tratá-los como terroristas, ou é obscurantismo, ou é uma cartada desesperada de quem precisa de os aliar e arregimentar, por exemplo, contra a persistência da China. Neste sentido, uma união da Índia e do Paquistão seria ouro sobre azul, mas a ganância do ouro faz-nos escorregar nos ladrilhos azuis da civilização quadrimilenária de Mohanjeddaro e Harappa.
A inquietação do Homem Branco, empurrado contra o precipício atlântico da Europa ocidental – e que se julga o suprassumo, sobretudo por uma confusão mental cheia de amnésia a que chamou «Liberdade» ( a qual se traduziu, muitas vezes, na suspensão da faculdade de julgar) deu origem em Rudyard Kipling à famosa frase: «o fardo do Homem branco». A colonização foi um mandato e um fardo de duplicidade. O colonialismo foi uma ansiedade de ocupação do vazio, que levou ao genocídio. Nada tinham a ver com os Impérios espirituais como foi o português, que não praticou genocídios. «Kim», não é, apesar disso, apenas o divertimento pedante dum espião em busca das letras. Ele deixa um problema filosófico muito ingénuo no fim: o velho Lama, que Kim conduz, descobre o seu Rio da purificação final, na corrente das coisas e volta a si próprio para proteger Kim. Quer dizer: o Velho Mundo mantém a responsabilidade até ao desprezo de si próprio, pelo Novo Mundo, o qual nunca o abandonou. Xangri-La está ao lado.
Enquanto isso, Soraia Santos, jovem mãe de 20 anos, de Vila Real de Santo António, é atacada por dois rafeiros alentejanos esfaimados, que guardavam uma fábrica e foi salva em último recurso, arriscando-se ainda a perder uma perna. Nós não temos ideia dos monstros que deixámos entrar na horta da nossa dislexia, a que chamámos Liberdade.
A inquietação do Homem Branco, empurrado contra o precipício atlântico da Europa ocidental – e que se julga o suprassumo, sobretudo por uma confusão mental cheia de amnésia a que chamou «Liberdade» ( a qual se traduziu, muitas vezes, na suspensão da faculdade de julgar) deu origem em Rudyard Kipling à famosa frase: «o fardo do Homem branco». A colonização foi um mandato e um fardo de duplicidade. O colonialismo foi uma ansiedade de ocupação do vazio, que levou ao genocídio. Nada tinham a ver com os Impérios espirituais como foi o português, que não praticou genocídios. «Kim», não é, apesar disso, apenas o divertimento pedante dum espião em busca das letras. Ele deixa um problema filosófico muito ingénuo no fim: o velho Lama, que Kim conduz, descobre o seu Rio da purificação final, na corrente das coisas e volta a si próprio para proteger Kim. Quer dizer: o Velho Mundo mantém a responsabilidade até ao desprezo de si próprio, pelo Novo Mundo, o qual nunca o abandonou. Xangri-La está ao lado.
Enquanto isso, Soraia Santos, jovem mãe de 20 anos, de Vila Real de Santo António, é atacada por dois rafeiros alentejanos esfaimados, que guardavam uma fábrica e foi salva em último recurso, arriscando-se ainda a perder uma perna. Nós não temos ideia dos monstros que deixámos entrar na horta da nossa dislexia, a que chamámos Liberdade.
Subscribe to:
Posts (Atom)


